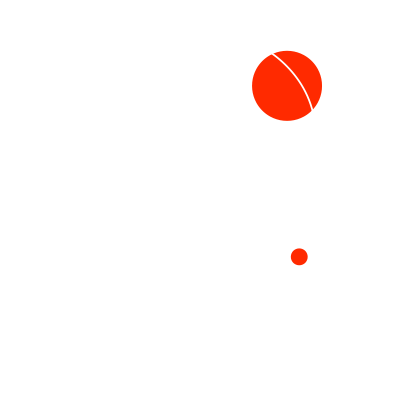por Claudio Barría Mancilla (UNIRIO/Kangen)
“Para suprimir o racismo seria necessário
suprimir a noção de raça.”
– Carlos Drummond de Andrade, In: O Avesso das Coisas — 6º Edição, 2007
Não somos conscientes do nosso racismo, mas nem por isso deixamos de ser racistas. Pesquisas recentes — como a realizada pela BemTv/UFRJ/U.E. — confirmam mais uma vez este paradoxo: a enorme maioria das pessoas reconhece e condena o racismo na sociedade, entretanto, aproximadamente a mesma quantidade delas não se considera racista. Quem são, afinal, os racistas que reproduzem cotidianamente essa pesada herança colonial? A resposta custa a vir à tona porque pode ser muito desagradável para todos.
Sabemos hoje que a discriminação racial não se baseia na existência biológica de ‘raças’, como até muito pouco tempo atrás se acreditou inclusive no seio do pensamento científico. Hoje podemos perceber o racismo como uma herança da estrutura social e da ideologia colonial, que se perpetua. O período colonial deixou muitas heranças, e dentre elas, esse viés de colonialidade que atravessa nossa forma de perceber o mundo.
É justamente por ser parte estruturada e estruturante das relações de dominação e produção das sociedades ocidentais e ocidentalizadas, como a nossa, que o racismo não é nunca exercido por quem o denuncia. Pelo mesmo, pouco ou nada tem à ver com desvios de caráter ou outras leituras psicologizantes que despolitizam a questão.
Por contraditório que possa parecer, poderíamos dizer, sem temor a errar, que se bem a ideia de “raça” é uma invenção colonial (não há registros da utilização deste conceito para se referir à diversidade humana antes das invasões europeias da nossa América a fins do S. XV), o racismo é uma realidade inegável que se perpetua nas estruturas de dominação e no nosso pensamento, podendo ser percebido hoje da forma mais violenta nas condições de vida dos grupos sociais subalternizados e no atropelo objetivo aos direitos da população não-branca. O racismo é constitutivo do sistema-mundo moderno colonial.

Daí que frases como “somos todos filhos do mesmo pai” ou mesmo “existe uma única raça, a humana”, nesse contexto histórico, sociopolítico e cultural vigente, muito embora a boa intenção que as mobilize, são uma aberração que escancara a contradição na qual vivemos. Elas me lembram a frase de uma professora que em um debate sobre discriminação racial disse, convencida de que fazia o certo, “na minha sala de aula não tem essa de racismo, trato todo mundo como se fosse branco”.
Conheci bem essa professora, e sei que ela fez aquela afirmação com a melhor das intenções, mas isso não tira a enorme carga de colonialidade que há nela. O racismo, afinal, não é um desvio de caráter, nem tem a ver com a boa ou má intenção de uma pessoa, ele é transversal à sociedade moderna/colonial. Trata-se então, de perceber nosso lugar em uma estrutura de dominação que nos atravessa e nos permeia.
O ponto é que frases como as citadas aqui consideram categorias locais da cultura europeia como se fossem universais, e essa é a melhor definição da colonialidade, a ideia de um único ‘ser’ universal — concebido à imagem e semelhança de um padrão valorativo, social, histórico, moral e cultural eurocêntrico — em cujo nome são apagadas e não raro discriminadas, perseguidas e aniquiladas todas as divergências a esse padrão, todas as culturas e etnias, tidas assim como inferiores, selvagens ou atrasadas.
Esse padrão de colonialidade do saber e do ser constitui uma das pedras angulares que dão sustento à violência colonial, neo-colonial, imperial e suas derivações (desenvolvimentismo, colonialismo interno, guerra ao terror, pacificação de favelas e periferias, submissão compulsória das comunidades indígenas, etc.).
Esse é também o padrão de colonialide que define no imagiário da modernidade, no senso comum das pessoas, o perfil de sucesso e de poder : o Homem branco, hétero, proprietário, cristão. Esse é “o” perfil aceito nos processos seletivos para um novo emprego e também aquele que mais facilmente passa por uma blitz policial.
A mesma coisa acontece com a imposição, como natural e universal, de uma crença particular que chega a nós no mesmo processo de ocupação militar e sociocultural que conhecemos como colonização: a religião monoteísta explícita na frase “todos filhos do mesmo pai”. Esta crença, mesmo na sua leitura mais ampla e diversa, está longe de ser universal.
Somos biologicamente uma única raça, sim, porém histórica, social e culturalmente, a ideia de uma única raça tem apenas a função de apagar a diversidade étnico-cultural e de esconder as violências que a herança colonial nos impõe até os dias de hoje.
Podemos, como nos convida Drummond de Andrade com a melhor das intenções, suprimir a noção de raça, entretanto em nada isto mudaria a miséria humana impetrada pelo racismo se não suprimirmos, no mesmo ato, o preconceito herdado, a discriminação reproduzida, a violência diariamente perpetrada. Para tal efeito o ensejo é mais complexo do que apagar uma palavra do já extenso dicionário da ignomínia humana.